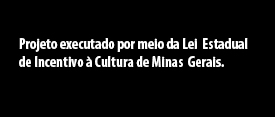Relato de uma viagem feita entre setembro e outubro de 2004 às ex-Repúblicas Soviéticas do Uzbequistão e do Quirguistão, e à província autônoma do Sinkiang Uigur, na China. Publicado na primeira edição da Revista de Autofagia, o texto é de Guilherme Wisnik e as fotos de Elaine Ramos.
Relato de uma viagem feita entre setembro e outubro de 2004 às ex-Repúblicas Soviéticas do Uzbequistão e do Quirguistão, e à província autônoma do Sinkiang Uigur, na China. Publicado na primeira edição da Revista de Autofagia, o texto é de Guilherme Wisnik e as fotos de Elaine Ramos.
Na passagem de Irkechtam
Há, no planisfério, uma região onde o desenho dos países se contorce num funil ziguezagueante, parecendo sofrer a ação centrífuga de uma força que os atrai e absorve num ponto. Esse buraco negro, embora dificilmente localizável, dispara reações de longo alcance ao redor de si, movendo, à distância, enormes maciços rochosos, desviando o curso de rios, criando desertos. Nas suas proximidades imprecisas, tanto as linhas políticas de fronteira quanto as formações geológicas vão se estrangulando em feixes convergentes, em diagonais sinuosas, tremendo vacilantes como um ponteiro de bússola desnorteado com a proximidade de um campo magnético muito intenso.
Se nos acercarmos a essa região nebulosa pelo flanco ocidental, podemos identificar reflexos dessa reação em cadeia já na costa africana, no vértice pontiagudo da Península dos Somális, em sua diagonal incisiva apontando para nordeste, que se replica e enfatiza na forma da Península Arábica, sua vizinha. É curioso notar como a elegância esbelta do continente africano se deforma ao atingir o hemisfério norte, abrindo-se num leque manco, assimétrico, que descortina horizontes inversos a ocidente e a oriente. Enquanto de um lado, a oeste, alarga-se numa curvatura longa e generosa, como um molde – ou contra-molde – sem arestas da costa brasileira, de outro, a leste, eriça-se abruptamente na ponta da Somália, formando o Golfo de Áden – que interrompe o movimento descendente que vem do Sinai, pelo Mar Vermelho, remetendo-o num volteio inclinado para cima, Arábia afora. Esta, freneticamente impulsionada na mesma direção, comprime com um “chute” o litoral iraniano, afundando-o num pequeno trecho. Forma-se, assim, o Estreito de Hormuz, uma reentrância continental que permite ao Golfo Pérsico comunicar-se com o oceano, escoando para o mundo as torrentes ancestrais do Tigre e do Eufrates. Mas prossigamos em nosso percurso: tamanha é a força inercial desencadeada no sentido nordeste, que a cadência lateral de descida que vem dos Montes Zagros pelo continente, ecoando o Cáucaso, é decisivamente retorcida num redemoinho ascendente, numa síntese que vem formar os impetuosos contrafortes do Hindu Kush, nas linhas de força que definem os limites do Paquistão e do Afeganistão – eis aí a nossa primeira aproximação. Ali adiante, um pouco mais além da Caxemira, esses limites tênues vão definhando, dilapidando-se em profundos cânions e precipícios, como o desfiladeiro Khunjerab e o passo do Khiber – o “portão imemorial” de Alexandre. Ou, ainda, no extenso e estreitíssimo corredor Walkan, que dois elefantes juntos não conseguem atravessar.
Se continuarmos essa ronda paciente em sentido anti-horário, toparemos, ao sul, no eixo central de toda essa movimentação, com a Índia: axial e soberana, base sólida para uma coroa de medusa. Ao longo desse eixo vertical, seu robusto corpo territorial, com a força geográfica de um subcontinente fortemente desenhado pelo litoral, vai se rarefazendo lentamente acima do Punjab, como uma serpente encantada que se desintegra enquanto galga, levitando, os penhascos íngremes do Himalaia.
Prosseguindo, mais a leste, toda a morna dispersão equatorial das ilhas de Java é, de repente, rotacionada para noroeste em Sumatra. Rotação súbita que pode ser tomada como a oculta razão de existência da península malaia, que, a partir daí, sobe esguia, junto com as monções, rumo à Indochina. Graças a essa energia de atração, países como Vietnã, Laos, Camboja, Tailândia, Birmânia e Bangladesh, se empilham uns sobre os outros, escorando-se mutuamente numa diagonal instável. No entanto, a atração irresistível que essas linhas de força sofrem no sentido noroeste não impede que elas tenham, ainda, que se desviar, deslocando-se num movimento improvável para norte, de sorte a contornar as muralhas do Himalaia. Assim, todo aquele movimento incisivo de subida que nasceu em Sumatra, vai se comprimindo – ao mesmo tempo que se condensando – na enevoada garganta do Junling Bainkara, onde nascem os rios Mekong, Preto e Vermelho. Após esse contorno estratégico, uma ousada manobra a ocidente compensa o desvio anterior, completando-o, e permite atingir-se o solitário chapadão tibetano por cima, através da Cordilheira Cuenlun, que ao correr para o Pamir vai morrendo dramaticamente nos despenhadeiros vertiginosos da passagem Caracorum.
Já no extremo oriente, a concavidade leve e graciosa do arquipélago japonês – concha gentil que retém e acolhe o mundo, a ocidente –, entra em espiral em Aleksandrovsk, no mar de Okhotsk, ao encontrar-se com o movimento enervado dos montes Da Kolima e Stanovoi, que correm decididos dos confins do estreito de Bering rumo ao sudoeste. Essa espiral sinuosa e descendente, a partir daí, vai definindo os limites setentrionais que cortam o “negro coração” asiático, separando o planalto mongol e o deserto dos tártaros, como hordas convulsionadas que atravessam a galope as areias do Gobi e as estepes cazaques para mergulhar, já mais ao sul, nas falésias escarpadas do Altai e do Tienchan, num cul-de-sac que pende novamente para leste, revolvendo-se em refluxo numa tempestuosa contra-correnteza continental.
Fechando o cerco, a noroeste, as linhas diagonais que delimitam o Turcomenistão e o Uzbequistão contrariam a impávida ortogonalidade dos Montes Urais, iniciada mais acima nas ilhas da Nova Zembla, no Círculo Ártico. Como que a buscar as nascentes cristalinas dos rios Oxus e Iaxartes, que irrigam suas planícies áridas, esses países vão sendo tragados em lentas derivações a sudeste, afunilando-se no precário contorno dos minúsculos e montanhosos Quirguistão e Tadjiquistão, como um novelo de seda que se desfia ao mesmo tempo que se embrenha, em movimento entrópico, ocultando-se em si mesmo.
[3]
A fronteira vai abrir às três, me asseguram os caminhoneiros. A essa promessa não oficial, mas informal, nos agarramos como a uma verdade suprema, fazendo dela nosso elo com o futuro. Nuvens no céu talvez ajudassem a empurrar as horas para a frente, mas a única força em ação no momento não é capaz de mover as coisas. Ao contrário, é uma onda surda e estacionária que a terra devolve em reação ao peso, e que consegue, por isso, manter equilibrados os caminhões mal acomodados nas curvas fechadas da estrada. É curioso pensar que vimos esse cenário ser montado, peça por peça, algumas horas atrás. E no entanto, agora, essa paisagem não pode ser outra coisa senão eterna. Chegamos ao primeiro posto de fronteira no horário que Daniyar havia previsto ontem de manhã, ao deixarmos Osh. Aperto a mão de Valodiya, nosso motorista russo, para nunca mais. Um sorriso duro, olhando para o chão, e um cumprimento daqueles que parecem implodir os ossos dos dedos. Dali em diante, estamos por conta, isto é, na carona de um caminhão de ferro-velho. Entre um lado e outro da fronteira, estende-se uma faixa neutra de segurança, uma porção de terra sem pátria, onde ainda estamos. Restam sem resposta, no entanto, as questões fundamentais: saber o quanto falta para chegarmos ao outro lado, e, também, se esse trem fantasma adormecido, à nossa frente, vai conseguir reengrenar, um dia, em algum movimento.
Mais à frente, no início da fila, um caminhão entalado na curva que inicia a subida da serra solta no ar uma fumaça preta. Homens operosos não param de amarrar cordas em volta da carga, e a minha impaciência agora se alimenta da evidente contradição entre o problema que eles se dedicam a resolver, e o fato de aquele caminhão estar quebrado, ou entalado na curva, atravancando o nosso caminho. Do lado de cá, nossos novos amigos, já acordados, dividiram pão e ovo conosco, e explicaram, gesticulando, que a fronteira está fechada para o almoço dos funcionários. A cada minuto que passa, uma saudade ansiosa vai preenchendo de angústia o vazio da espera. Está claro, agora, que os mil quilômetros que separam Tashkent de Kashgar – a extensão de nossa viagem – não são mensuráveis em padrões convencionais. Ademais, o significado exato dessa travessia, para mim, sempre esteve ligado ao desejo secreto de flanquear, de surpresa, o limite final entre o ocidente e o oriente, tomá-lo de assalto, o que, é claro, requer uma contagem mais paciente de tempo e distância. Do lado de lá – eu antevejo –, está o deserto do Taklamakan, cuja mística de lugar inóspito e impenetrável é alimentada pelos relatos de exploradores europeus que, desde o século XIX, desenterraram o tesouro perdido das cavernas dos budas. Taklamakan, nos dialetos turco-mongóis, quer dizer mais ou menos o seguinte: “você entra e não sai”. Mas aqui, na ante-sala do deserto, nessa quarentena na qual a sorte teima em nos manter cativos, mas despertos, não sei dizer se a dificuldade que temos é ainda a de entrar, ou, já, a de não poder sair. ¿Não teremos nós, no demorar distendido do tempo em que estivemos aqui sentados, atravessado já, sub-repticiamente, a fronteira final do oriente? Penso em À espera dos bárbaros, de Kaváfis, e em como o tempo da espera pode engendrar subliminares mudanças de estado, ou esconder, com promessas, transformações já processadas antes, em silêncio. No ar, um ruído áspero e monocórdio de corrente elétrica preenche o espaço com uma matéria vibrátil, dando a impressão estranha de haver um rádio fora de sintonia plugado em alta voltagem. Massa espessa e amorfa, de cuja freqüência alheia a nossa mente, tão atavicamente resistente e desviante, quando distraída, insiste em extrair trechos ocultos de melodias reconhecíveis num átimo, ou extratos longínquos de versos nunca feitos, e que parecem desvendar, a cada segundo, sentidos novos para uma viagem assim. De costas para ela, me encontro, de repente, com a verdade mais simples: se cheguei até aqui – e agora vejo que cheguei –, não foi por outra motivação, que não a de estar inteiramente com ela.
[4]
De ocidente a oriente, em torno da latitude 40o norte, o mar vai secando. Ecos descontínuos do Mediterrâneo, o Negro, o Cáspio e o Aral, praticamente alinhados, formam, a leste, uma seqüência decrescente, em que o mar, agonizante, vai cedendo à lenta vastidão ruminante da terra. E, à medida que se alargam as extensões continentais, a estepe é que domina o espaço. A estepe é a imensidão sem margens, o grande corredor da história, o lugar da transumância e das trocas culturais e econômicas, atravessado continuamente por árabes, citas, persas, mongóis, turco-chagatais, partas, uigures, e uma infinidade de outros povos esquecidos, como os kuchanos, o elo perdido entre as figurações helênica e búdica. É a “pátria” sem fronteira das tribos nômades e dos cavalos de guerra, que pisoteiam seus inimigos enquanto avançam, montados por arqueiros perfilados que atiram para trás. É o chão pedregoso, enfim, cruzado por lentas caravanas, velas infladas ao vento, levadas pelas tempestades de areia. Mas é também, se quisermos, o território cambiante de outras caravanas, imóveis, que nunca passaram. Naus soterradas no tempo, como cidades que a memória apagou antes de construir.
Isolado nas alturas do Tienchan, o lago Issyk-Kul é, para mim, a quintessência do Mediterrâneo: seu eco mais distante e, ao mesmo tempo, sua depuração. Um espelho radioativo – devido aos testes nucleares soviéticos – que parece segredar, em seu brilho cego, que o movimento humano que por tanto tempo circundou as suas margens, é agora um curso subterrâneo, esquivo, que não encontra a luz.
Intensissimamente radiante, a sua cor turquesa é, evidentemente, o referente natural mais próximo das mesquitas de Samarcanda, cujas cúpulas parecem contestar a monocromia parda e monótona do mundo à sua volta. Como porções infladas de céu que brotaram na areia, elas são afirmações agressivas de algo que nos escapa na essência, embora possamos admirar. Seus frontões sem fundo, portais gigantes sulcados por ogivas rasas, como num baixo relevo, apenas demarcam uma presença ereta no espaço aberto. Igualmente, suas cúpulas e minaretes oscilando entre o verde e o azul vitrificados, existem unicamente para brilhar na paisagem, e não para criar ambientes internos. Ao contrário do que acontece na basílica romano-cristã, onde a seqüência de domos translúcidos dá às construções o seu caráter diáfano e uterino, aqui não é possível falar em interioridade. Mesmo porque, não se constituiu a noção de indivíduo, tal qual nós a conhecemos.
A cidade, antes, se assemelha a um agrupamento transitório pontuado por monumentos exuberantes. Isto é, não deixou de ser um acampamento no deserto, com todas as suas jóias, brocados, especiarias e tapetes expostos. E suas cúpulas, assim como o Issyk-Kul, replicam o céu em fragmentos brilhantes: azul sobre azul, cobalto sobre esmeralda…, recordando, de longe, o mar ausente, como “corais no deserto”, na imagem feita por Joseph Brodsky.
Nós, americanos, estamos na ponta final das caravanas. É claro que eu não me esqueço disso, aqui, um minuto sequer. Nós somos a caravela que se lançou ao mar e deslocou, consigo, as rotas de comércio, e, com estas, o eixo do mundo. Nossa existência é inseparável do mar, e parece miticamente ligada, pelo avesso, ao impulso de Alexandre, que atravessou toda essa lenta imensidão terrestre em busca da Corrente-do-Oceano, o Nilo, que o levaria de volta ao Mediterrâneo. Por isso é que hoje estamos aqui, procurando um recado esquivo, colhido de passagem, no brilho azul de um céu sem nuvens.
À espera de um sinal. A inócua operosidade em torno do caminhão entalado parece não ter mesmo finalidade. Mas agora, no alto do morro em frente despontou um guarda, que começou lentamente a descer pela estradinha e sumiu. Depois, apareceu outro, acompanhando um casal, aparentemente ocidental, até um mirante na metade da serra. Lá estancaram, e ficaram um bom tempo olhando para baixo, protegendo os olhos com as mãos, entretidos em alguma conversa que nós não pudemos alcançar. ¿Vieram nos resgatar? Tentei acenar, estabelecer uma cumplicidade gestual, como quem faz sinal de fumaça na clareira. Mas não adiantou. Só que, desperto pelo princípio de movimento que veio do lado de lá, resolvi me levantar. ¿Terá terminado o almoço dos guardas? Andei um pouco ao redor, e decidi subir mais um tanto no caminho de pedra atrás de nós, de modo a tentar enxergar algo adiante. Nesse momento, para aquele guarda lá em cima, ou mesmo para o casal ocidental, eu era uma figura em deslocamento. E, de repente tive receio de que aquele mirante fosse um posto avançado de tiro, de caça esportiva aos motoristas de ferro-velho, e que aqueles turistas estivessem ali apenas esperando algo se mover no horizonte para alvejar. Talvez por isso é que estejam todos, por aqui, tão sonolentos e inertes: tática de sobrevivência. Mas, na verdade, eles estão absorvidos na espera diária de travessias sem ida nem volta, sem noite nem dia, transportando despojos de uma cultura material esgarçada, que do lado de lá são comprados a preço de nada, para serem processados e transformados em metal novo, em aço laminado. Estamos no entroncamento das rotas por onde antes circulava a seda, e para onde hoje confluem as estradas que trazem caminhões de todos os países vizinhos. Eles partem, às vezes, de pontos longínquos do território, e vão chegando aqui lentamente para se fundirem uns aos outros em um magma espesso, formando essa cidade contingente nas alturas, uma comunidade transnacional a que passamos a pertencer. Vendo-a, agora, com um certo recuo, posso entrever também, no cume do morro em frente, o topo de uma casinhola de madeira, e o primeiro tremular solene da bandeira vermelha com uma estrela amarela no canto, circundada por outras quatro menores, em semi-círculo.

Não há tempo de explicar tudo o que se passou. Estamos descendo as encostas chinesas do Pamir em desabalada carreira. Como n’O anjo exterminador de Buñuel, cruzamos o portal sem uma permissão clara, sem que alguém viesse anunciar que a fronteira estava oficialmente aberta. O táxi que vai nos levando para Kashgar, sem embreagem, não consegue trocar a quarta marcha. Vamos acelerando fundo nas descidas para ganhar sobrevida nas subidas, buzinando alto para espantar as ovelhas, galinhas, cavalos e bicicletas que se aglomeram na estrada. A descida é vertiginosa, e só nos permite prender o fôlego enquanto nos concentramos na idéia obsessiva de chegar. São quase nove horas da noite, mas o relógio, preso ao horário de Pequim, distante 4 mil quilômetros daqui, já não significa nada. Enquanto isso, as escarpas vermelhas e enrugadas de rochas imensas, como que lavradas por uma neve incandescente, vistas assim, sob o lusco fusco da tarde, vão confirmando a existência de uma dobra no planeta – suposição que eu, seguramente, não serei capaz de comprovar. Mas por outro lado, pensando bem, ¿quem poderá refutá-la?
Lentamente, o vôo vai nos levando para Tashkent, de onde seguiremos para o vale do Fergana, e depois para Osh, onde começa a travessia. Oscilando entre o instante fugidio do quase dormir, e o segundo infinitesimal que antecede o momento de acordar, vou olhando fixamente a paisagem na janela, as sombras que se alongam imensas por não ser existindo, e perguntando, para ela, em silêncio: ¿como será?