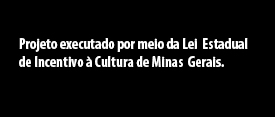Texto do filósofo e ensaísta Peter Pál Pelbart sobre a experiência coletiva que tivemos no Circo Voador alguns anos atrás. Acho muito oportuno recuperar essa reflexão no momento em que algumas daquelas possibilidades vislumbradas ali, que pareciam ainda utópicas e visionárias, começam a tomar corpo!
Pode o “artista independente” evitar tornar-se apenas momento precário e oportunista em sua carreira?
Por Peter Pál Pelbart
Quando fui convidado a esse encontro sobre sustentabilidade da mídia independente, de início tive dificuldade em compreender as razões desse gentil convite, tendo em vista minha incipiente familiaridade com o tema em questão. É verdade que já havia sido convidado como palestrante em eventos similares, seja um encontro sobre mídia tática organizado pelo saudoso Ricardo Rosas, seja um fórum sobre ativismo cultural promovido pelos coletivos de São Paulo, seja, enfim, meu interesse pelas iniciativas do gênero com as quais tenho um diálogo descontínuo porém fecundo. Nesse caso, porém, dado o lugar mais discreto, de mediador, que me foi reservado, e mobilizado sobretudo pelo interesse em me informar sobre os rumos desse meio entre nós atualmente, aceitei a incumbência razoável de coordenar um grupo chamado de Intersecções. Segundo os organizadores do evento Onda Cidadã, esse grupo híbrido (pois teria gente proveniente de mídias as mais diversas) reunia os participantes mais “malucos” da empreitada, e dada minha experiência com loucos (a Cia Teatral Ueinzz, que coordeno há dez anos), eu certamente saberia lidar com eles. Ao começarmos os trabalhos sob a simpática tenda do Circo Voador, com vista para os arcos da Lapa e um céu especialmente límpido, ainda constrangido pela natureza insólita de minha tarefa, pedi inicialmente que cada qual apresentasse sua experiência. Confesso que logo de cara, no meu constrangimento, tive dificuldade em compreender até parte do vocabulário utilizado por alguns membros muito jovens, referindo-se por vezes à cena musical predominante, às correntes em voga, a siglas do MinC, mecanismos de captação, ou mesmo a nomes de banda e festivais multitudinários sediados em lugares longínquos (para mim) de cuja existência eu jamais havia ouvido falar. Uma vez passado o estranhamento inicial, com o linguajar, com o estilo, com as siglas, com algo, enfim, que eu atribuía (para facilitar minha posição) à distância geracional, fui percebendo, para retomar a expressão dos organizadores, que se eu estava diante de “malucos”, eram os malucos mais articulados que conheci na vida. Tudo ali parecia a mim novidade: a lógica de produção, de associação, de enunciação, de mobilização. Saía desses encontros com a sensação de ter sido levado por um tufão. Eu me dizia o tempo todo: serei incapaz de resumir o que ouvi, se mal entendo do que estão falando. Poucas vezes vi gente que tem a mão na massa e tamanha lucidez sobre nossa economia cultural, bem como sobre as mutações que ela implica, tanto nos processos de formação, de produção, de difusão e de consumo dos bens culturais. De fato, os meios de expressão ali apresentados eram os mais diversos, desde o saquinho de pão impresso, distribuído nas padarias de Vitória pelo Projeto Forninho e funcionando como um jornalzinho regional com impacto popular, até os saraus promovidos pela Cooperifa nos bares de Capão Redondo, na periferia de São Paulo (sendo o bar o verdadeiro “espaço público” das favelas), onde uma propagação imensa da poesia oral entrou em disputa até mesmo com o próprio tráfico, chamando a atenção dos jovens da comunidade (como dizia Genet, só a arte é mais excitante que o crime), e a idéia magnífica de uma Semana de Arte Moderna da favela, com direito a um Manifesto Antropofágico da Periferia. Para não falar das corajosas intervenções públicas e midiáticas do coletivo Bijari em áreas “gentrificadas” de São Paulo, contrapondo-se à limpeza étnica urbana em curso, ou sua associação com o movimento dos sem-teto das cidades numa imensa ocupação no centro de São Paulo, ou no T-bone Açougue Cultural e suas atividades em Brasília (fundado por Amorim Lima, que chegou a ter dez mil livros em seu açougue para empréstimo gratuito à população), passando pela Eletrocooperativa e seu ativismo musical e poético na Bahia e em São Paulo, no campo da educação e da juventude, ou mesmo o grupo do Circo Voador, que de modo tão hospitaleiro abrigou o encontro, com a irradiação cultural que promove na cidade do Rio de Janeiro. Em todos esses casos, pode-se dizer que foram criados novos modos de cooperação e de associação e de afetação e de intervenção urbana. Das experiências relatadas no grupo Intersecções, talvez a mais surpreendente, em termos de reconfiguração do circuito de fluxos e trocas culturais, é o cubocard, moeda criada por iniciativa do Espaço Cubo, em Cuiabá. Embora seja difícil imaginar uma economia de escambo em nosso milênio cibernético, o seu inventor explicou seu surgimento com grande desenvoltura e naturalidade, descrevendo o circuito produtivo e expansivo que ali se constituiu, à revelia da grande mídia e da economia vigente. Uma cadeia de valoração autônoma, onde músicos, artistas, técnicos, trocam serviços e sustentam uma produção intensa e independente, praticamente sem depender de financiamentos externos ou patrocínios eventuais ou reconhecimento midiático. Tão forte se tornou esse mecanismo, e a tal ponto mudou o panorama cultural da cidade, que o poder público não pôde deixar de se interessar, percebendo que a produção vital dava-se justamente nessa zona de autonomia temporária. Assim, foi a reboque, inserindo-se no circuito, injetando recursos, mas também fazendo uso dos cubocards obtidos em troca para solicitar a presença das bandas em seus eventos. Do mesmo modo a iniciativa privada se inseriu, entendendo que a economia cultural aí emergente, e o público que ali circulava, reconfigurava a dinâmica local. De modo que esse circuito começou a ditar uma nova sensibilidade musical, uma nova sociabilidade associativa, um novo empreendedorismo biopolítico. Essa solução já se estende para outras cidades do país, e não há razão para que não seja transposta a nível nacional, como o propôs Pablo Capilé. Se acompanhamos a proposta de seu amigo, o poeta Makely Ka, juntamente com o espaço criado por ele em Belo Horizonte a partir de uma atividade associada aos catadores de papel, o desafio consiste hoje em criar uma “contra-indústria”, uma guerrilha cultural, circuitos paralelos, novas cadeias de valor, com o que, necessariamente, se desatam os nós da cadeia produtiva hegemônica, validando a autoprodução em todas as suas etapas. É a reatualização da consigna punk do “faça você mesmo”.
Como, no entanto, não deixar que essa autonomia do chamado “artista independente” se torne apenas um momento precário e oportunista em sua carreira, à espera do convite global vindo de longe? Pois é inevitável, e essa posição parece compartilhada pelo grupo inteiro: com tais iniciativas, desloca-se inteiramente o lugar do artista. O artista hoje já não pode deixar-se levar pelo mito romântico do ser solitário, à espera da inspiração divina – ao contrário, ele é uma espécie de operário, de carregador de caixas, de produtor com a mão na massa e inserido na mobilização coletiva. Também não cabe a ele desprezar a cena local, fixado no grande eixo cultural – cada ponto da rede é um foco de irradiação cultural soberano. Assim, muda a relação centro/periferia, a dependência em relação às instituições reconhecidas, bem como os clichês sobre inclusão social, precariedade, reivindicação, conflito. A meu ver, essa inteligência coletiva em ação, sem ingenuidade alguma, tem a clara consciência de que o capital imaterial de que todos dispõem – isto é, a força de invenção ou força-invenção, que é patrimônio de todos e de qualquer um seja lá onde estiver, conforme o escreve Maurizio Lazzarato a partir de Gabriel Tarde, tem meios de negociar e de driblar os mecanismos de captura vários, provenientes do poder público, da iniciativa privada, bem como da máquina midiática. Ou seja, está a seu alcance a potência de reinventar a subjetividade coletiva, os meios de produção, de troca e de consumo, a própria mídia. Tenho a impressão que esse grupo vive na carne a constatação de que o capital maior é a própria vida, e que sua potência de expansão e de constituição extrapola o poder do capital e o sequestro da vitalidade social dali advinda. É uma pequena revolução biopolítica.
Quando o jovem criador do Cubo insistiu em que todos aqueles grupos se mobilizassem para estarem presentes no encontro dos pontos de cultura do Brasil em BH, a ser realizado em novembro por iniciativa do MinC, e que aproveitassem esse encontro como uma oportunidade a mais em vista desse projeto maior, e que não deixasse esse encontro esgotar-se nele mesmo, quando ele mencionou que era preciso aproveitar essa janela de ocasiões ainda aberta pela presença de Gilberto Gil, e quando o poeta mineiro insistiu que havia ao todo, espalhados pelo país, pelo menos 20 mil focos de guerrilha cultural, o que constituía um poder de fogo nada desprezível que era preciso fazer somar, e quando se propôs que saísse um ônibus do Capão Redondo, em plena “Semana de Arte Moderna” em direção ao encontro dos pontos de cultura em BH, tive a impressão de que se tudo aquilo, por um lado, ressoava inteiramente com o que eu andava trabalhando nos últimos anos em termos teóricos (com Negri, Hardt, Lazaratto, Levy, Deleuze-Guattari), ao mesmo tempo minha lentidão e reclusão acadêmica e enclausuramento no que eles chamavam de Eixo (não é o Eixo do Mal, mas o Eixo Rio-São Paulo, diante do qual eles criaram em Cuiabá o espaço cultural Fora do Eixo), me deixava a reboque dessa vitalidade estonteante. Os meninos (que eles perdoem essa designação carinhosa, embora alguns tenham mais do que a minha idade) têm plena consciência de que nas ultimas décadas houve uma pequena revolução que não é apenas tecnológica, e que colocou ao alcance de praticamente todos, por mais desvalidos e precários ou supostamente excluídos que possam ainda ser considerados ou se considerarem, a possibilidade de se munir dos meios técnicos e associativos, e de criar agenciamentos coletivos que os sustentem, numa guerrilha generalizada, guerrilha semiótica, afetiva, vital, econômica, num contexto em que o controle molar e o molecular se ajustam numa semiótica a-significante, e que portanto, é preciso revidar no mesmo plano sem descuidar do resto, e no limite, reinventar a própria moeda. Ou seja, um comum virtualmente presente é acionado e mobilizado e desdobrado, a partir do qual o jogo parece revirado. A clareza sobre o capital biopolítico, sobre a inteligência coletiva, sobre a potência performática e a propagação a-significante, a igual clareza com a qual avaliam as relações eventuais porém não imprescindíveis com o poder público e a iniciativa privada e as instituições ditas culturais, a astúcia com que usam os apoios e os driblam contra o contexto que os tende a capturar, jogando merda no ventilador o tempo todo (financiados por uma empresa de telefonia, fazem uma música que começa assim: desliguem seus celulares..), num misto de legalidade e ilegalidade que lembra a estratégia dos intermitentes do espetáculo com quem Lazzarato tem trabalhado na França (que ao empreenderem com grande engenho lúdico uma greve nacional de artistas, que esvaziou inteiramente a indústria do turismo no sul da França, obrigaram o governo a negociar a manutenção de um sustento para os períodos de entre-safra), enfim, a lucidez sobre o compartilhamento e também uma espécie de inconsciência mobilizada, que detecta os impasses e reinventa as saídas prováveis porém não necessárias, a antenagem ímpar para o bombardeio semiótico e os revides possíveis, testemunham no mais alto grau que os instrumentos de percepção e de desmontagem ao nosso alcance são por vezes de extrema pobreza quando comparados com tamanha inventividade micropolítica. Fiquei tão impressionado com tudo o que ouvia que depois de cada sessão precisava caminhar sozinho até o hotel e dormir uma boa hora, para retomar a sessão seguinte com a energia renovada. Não sabia como conseguiria escrever, o que quer que fosse, à altura da experiência relatada – e o grupo até cogitou de escrever um pequeno documento-manifesto, mas entendeu que a prioridade no momento era a mobilização mais geral dos outros grupos presentes, para um encontro futuro. Na ocasião, também eu estava às voltas com um texto a ser escrito para um Simpósio Nietzsche-Deleuze, em Fortaleza, cujo tema era “”vontade de potência” e “máquina de guerra”. Entendi subitamente que ali tinha um pequeno exemplo, porém talvez apenas um recorte minúsculo de uma fermentação generalizada, de um enxameamento onde o que poderíamos chamar de novos valores, ou novos modos de valoração (inclusive econômica), para usar termos próximos a Nietzsche, ou novas fontes de produção de valor, ou uma mutação na sensibilidade coletiva (Guattari), curto-cicuitavam o regime dito hegemônico sem perderem sua energia nos confrontos diretos e fadados ao fracasso. Desde o grupo de motoboys em São Paulo que usam seus celulares como câmaras indiscretas e jogam seus filmes diretamente na rede, driblando o olhar midiático sobre a cidade, com mais de cem mil visitas por dia em seu site, até aquele performer solitário que é um dos primeiros a chegar ao local do acidente da TAM em Congonhas e com seu celular se faz de representante da ABIN em voz alta em meio aos policiais e bombeiros, negando ou permitindo a aterrissagem de helicópteros e simulando que é ele quem monitora o território de pouso, enquanto com o outro ouvido vai captando as notícias da CNN que informam, entre outras coisas, a chegada iminente (de helicóptero) do governador Serra, ajudando-o na sua “performance”, vejo pequenas máquinas de guerra por toda parte, introduzindo um fator caos ou disseminando germes para uma nova sensibilidade. Loucos, ilegais, favelados, poetas, músicos, desempregados, precários, invisíveis de todo tipo percorrem nossas cidades e reivindicam outra coisa, para a qual não temos ainda um nome. Todos eles têm consciência da desproporção presente na relação de forças, dos biopoderes vigentes e seu racismo hegemônico e escravagista, para retomar os termos de Giuseppe Cocco e Toni Negri na sua análise da América Latina, da perversão das leis de incentivo e da manipulação do grande capital, da máfia que domina nosso Congresso, da servidão maquínica, das semióticas capitalísticas que se dirigem diretamente aos afetos, porém nada disso parece desmobilizá-los, ao contrário… e ao recusarem a designação de periferia, ou de excluídos, ou mesmo de minorias, ao rejeitarem o lugar de desvalidos nessa guerra desigual, ao evitarem a guerra frontal ou a militarização da luta ou o ressentimento lamuriento ou a reivindicação assistencialista da inclusão social, sem descuidarem do esforço de atingir, por pressão crescente, a própria legislação vigente, eles simplesmente reiteram a afirmação daquilo de que são portadores, emitindo torpedos de afeto, insistindo na constituição do comum e no jogo de singularidades que parece ser sua mais obstinada convicção, por mais que na boca deles isso leve outros nomes, menos nobres, ou filosoficamente incipientes. Todos eles são, a meu ver, máquinas de guerra que, segundo a própria definição de Deleuze e Guattari, não tem por objeto a guerra, e sim a criação. Mas por que, num contexto em que já não dispomos de qualquer exterioridade dada ou prévia que pudesse ancorar nossa resistência, como há décadas atrás poderia ser o caso do proletário, do marginal, do louco, do artista, num contexto em que todos eles foram devorados, num momento de tamanha homogeneização planetária, em que já não há fora algum e estamos todos dentro de uma megamáquina e seus mecanismos cada vez mais capilares de calibragem dos afetos, inclusive a calibragem do medo e da ameaça, para falar como Brian Massumi, por que justamente aí, nesse momento em que aparentemente a totalidade do planeta, do espaço, do tempo, da existência, do corpo e da subjetividade estão tomados de assalto, por que é justamente em meio a tal ambiência de controle maquínico, com seus efeitos niilísticos, que assistimos a esses revides improváveis e inusitados vindos dos lugares mais inesperados, reencontrando nos tchandalas (os “excluídos” da Índia, os sem-casta, banidos de todo comércio social) de hoje a imaginação biopolítica e a inteligência coletiva que desertaram inteiramente os espaços da representação política ou estética e sua estéril perversão? Uma coisa é certa: desafiando o sequestro do comum, disseminando seus focos autopoiéticos, de irradiação, contágio e propagação intensivos, subrepresentativos, pré-individuais, a-significantes, eles reconfiguram a subjetividade coletiva e sua potência de afetação… Eles não têm nome, não têm poder, não dominam as instituições, mal sabemos se existem e onde estão, mas é a partir desse limiar flutuante que constrém seu plano de consistência. Não quero idealizá-los, e se os uso de maneira um pouco similar ao modo em que Nietzsche usou os judeus de seu tempo (em quem via uma “promessa” de outra Europa), ou Deleuze usou os esquizos (para pensar numa força de desterritorialização do social), é apenas para dizer isto: talvez sejam uma entre as inúmeras máquinas de guerra do tempo presente, que se infiltram e desviam e deslocam a lógica brutal da guerra econômica e militar e cultural levada a cabo pelos poderes instituídos, fazendo valer seus estados de potência e sua força constituinte, recusando precisamente a vontade pelo poder.
Talvez caiba ainda uma última palavra, na esteira de uma intuição poderosa anunciada por Félix Guattari há alguns anos atrás. Com a disseminação dos computadores pessoais, minicâmeras, celiulares, e com os meios tecnológicos à disposição de todos hoje em dia (e no grupo Intersecções esse tema foi retomado diversas vezes – “temos os meios de dominar todas as etapas da cadeia produtiva cultural”), segundo Guattari estaríamos entrando numa “era pós-midiática”. Através da multiplicação de focos de criação e de emissão e de irradiação, com a hibridação do computador, televisão, telefone, com as novas interações homem-máquina, e a partir da interconectividade horizontal e rizomática que ela propicia, já estamos em condições de liberar-nos da hipnose e do despotismo da mídia centralizada e piramidal. Uma era pós-midiática pode soar hoje um sonho utópico, mas a descrição feita acima, proveniente apenas de dois dias de encontro com uma dezena de pessoas proveniente dos mais diversos cantos do Brasil, não parece ser a ponta de um iceberg? Não assistimos, aí, a uma tendência crescente e esparramada, com desdobramentos imprevisíveis? Assim, a partir da sustentabilidade (econômica, pulsional, semiótica) das mídias autônomas, poderíamos retomar a intuição guattariana de uma era pós-midiática que se anuncia.
*Este texto foi produzido como análise do Forum Onda Cidadã 2007 – Grupo Interseções – no Circo Voador, RJ.